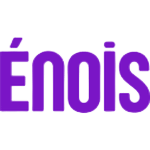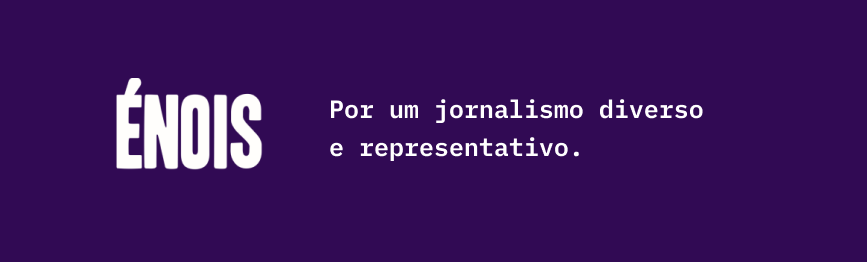Com os olhos cheios de água
16 de Setembro de 2020
Olhar a ancestralidade para nós, corpos negros, é ter a possibilidade de descolonizar a nossa escrita e a nossa visão de mundo
Oi! Como estão as coisas por aí?
Como você já deve saber, somos um laboratório de jornalismo que usa a diversidade como principal ferramenta. Estamos descobrindo que compartilhar os conhecimentos e multiplicar as trocas no espaço de trabalho nos fortalece enquanto indivíduos e nos potencializa como jornalistas.
Por isso viemos aqui, mais uma vez, compartilhar o que estamos lendo e refletindo enquanto caminhamos com nossos projetos.
Aqui quem fala é a Sanara Santos. Sou do eixo de Jornalismo Local, que pensa no território e em como fazer trocas com os jornalistas que estão nas nossas quebradas. Os temas ancestralidade e território percorrem os nossos estudos. Ao longo desse ano, tentamos entender como o território está ligado ao nosso passado, ao que nos constituiu e constitui na afetividade.
Para isso, escolhemos ler o livro Olhos D’Água, de Conceição Evaristo. Evaristo é uma mulher negra, de Belo Horizonte (MG), de família grande. Falo de família porque esse livro me faz lembrar das histórias que minha vó me conta.
Em uma das histórias, Conceição retrata um samba de terreiro no meio dos barracos, coisa comum nas lembranças de moça da minha avó, que sempre me falava como que aqui onde eu moro era perigoso. “Vira e mexe matavam um ou vários”, falava.
É exatamente assim que Evaristo narra a história de Ana Davenga, uma personagem apaixonada e apaixonante, também moradora de uma favela. A história narrada conta também, além da violência, sobre a sutileza do afeto, do amor dito e não dito. A nossa vida real, afinal.
Minha vózinha teve quatorze filhos. Muitos morreram a caminho de São Paulo pela falta de condições. Quando olho nos olhos dela, parece que toda a sua vida, sensibilidades e perdas estão ali sendo jogados pra cima de quem os admira. Quando eu olho nos olhos da minha avó, consigo enxergar toda a minha ancestralidade.
E olhar a ancestralidade para nós, corpos negros, é ter a possibilidade de descolonizar a nossa escrita e a nossa visão de mundo.
Não vá com o corpo fechado pra ler esse livro porque os textos vão te deixar à flor da pele. Confesso que chorei muito, assim como o nome do livro.
Como aprendizado, comecei a admirar mais as histórias dos meus avós.
NO RADAR
► Waubgeshig Rice é um autor e jornalista da Wasauksing First Nation. Ele mora no Canadá, na cidade de Ontario, e escreveu esta carta para um(a) jovem jornalista indígena. “O escopo do racismo em todos os níveis do sistema de jornalismo – desde a redação até os escritórios executivos – pode ter chocado você. Antes de insistir para que você continue, não consigo amenizar a realidade hostil de trabalhar no jornalismo canadense convencional. Você vai se sentir sozinho.”
► Os leitores de tela permitem que pessoas cegas e com deficiência visual usem computadores, telefones e tablets de forma independente. É aquela ferramenta que lê em voz alta tudo o que está na tela e permite que as pessoas naveguem usando certos toques e teclas de atalho. Você já levou isso em consideração ao escrever e publicar um texto? Holly Tuke aponta os cinco principais problemas que ela encontra ao navegar na web como uma leitora cega.
► Como duas redações locais estão costurando diversidade no tecido de suas organizações. Conheça as experiências do The Star Tribune e do San Antonio Express-News, dois jornais locais nos Estados Unidos.
► Todo jornalista precisa imaginar um leitor, alguém para quem contar a história. Seu leitor – ou ouvinte ou espectador – pode ser profissional, da classe trabalhadora, mundano ou paroquial, aposentado ou moderno. Ao ponderar para quem você escreve, você pensa qual é a raça do seu leitor? Marc Lacey, editor do New York Times, fala neste artigo como, por muito tempo, presumiu-se que os leitores da grande mídia eram brancos e como isso influencia a forma como se escreve uma matéria.